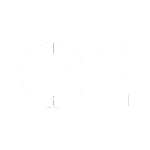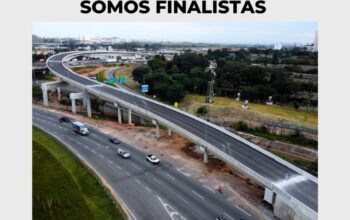O gasoduto de 3.150 km, ao custo de cerca de US$ 2 bilhões, para transportar até 30 milhões m³/dia (200 mil bpd) de gás natural, é considerado um marco técnico, um modelo de preservação ambiental e o maior projeto do gênero da América Latina
O Gasbol, como ficou conhecido o gasoduto Bolívia–Brasil, atravessa cinco estados e 135 municípios brasileiros, passando por terrenos argilosos e alagados, serras, florestas, leitos de rios, solos cultivados e reservas ecológicas. Estudos com rastreamento por satélites e análise de impactos ambientais foram efetuados de forma a reduzir a degradação do meio ambiente. Alguns trechos saíram do traçado original durante a construção, dada a necessidade de se preservar sítios arqueológicos.
No avanço do gasoduto foram criadas novas áreas de proteção, como o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, no Mato Grasso do Sul, e o Parque Nacional de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. O próprio Banco Mundial, um dos financiadores internacionais, aponta o Gasbol como modelo de preservação do meio ambiente.
Planos conjuntos Brasil–Bolívia para abastecer o mercado brasileiro com petróleo boliviano existem desde 1936, mas ele começou a se concretizar em 1992, quando a Petrobrás assumiu a interligação dos dois países com um gasoduto para suprir de gás natural as indústrias brasileiras, fonte de energia mais econômica e menos poluente. O último trecho foi inaugurado em março de 2000. Os US$ 2 bilhões investidos no empreendimento deverão alavancar outros US$ 5 bilhões para o mercado do gás e as termelétricas concluídas, em construção e as programadas.
Foram construídos 561 km em território boliviano, que são administrados pela Gás Transboliviano (GTB) – (Transredes 51%, Enron 17%, Shell 17%, Gaspetro 9% e BBPP Holdings 6%). De Corumbá chega aos mercados responsáveis por 82% da produção industrial e 71% do consumo de energia (Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e conexões para Minas Gerais e Rio de Janeiro).
No trecho brasileiro, de 2.589 km, o gasoduto atravessou os 70 km do Pantanal Mato-Grossense, transpôs áreas densamente povoadas em São Paulo e Santa Catarina e cruzou grandes rios como o Paraguai, o Paraná e o Tietê. Em seu percurso, foram instaladas 16 estações de compressão, sendo 12 no Brasil e quatro na Bolívia; e 37 city gates, para reduzir a pressão de vazão e medir o volume de gás entregue às distribuidoras.

A logística falou mais alto
O trabalho de implantação do Gasbol foi relativamente convencional: posicionar os tubos, soldá-los e lançá-los na valeta previamente aberta. A maior pressão foi estar com os equipamentos, as equipes, os tubos e os materiais no local e no momento certo para manter o ritmo de trabalho. O transporte dos tubos, dos materiais e dos equipamentos exigiu uma logística precisa. A cada dia, o canteiro de trabalho deslocava-se 2,5 km.
No lado boliviano os tubos vinham dos Estados Unidos e do Japão até o porto de San Nicolas, na Argentina, localizado a 200 km de Buenos Aires. Desembarcados dos navios, eram colocados em barcaças para subir pelos rios Paraguai e Paraná até Porto Soares, na Bolívia, em viagens que demoravam a15 dias. Foram 100 mil t de tubos só nesse trecho.
No lado brasileiro, os tubos produzidos pela Confab Ebse foram sobre carretas a Paulínia (SP) ou Águas Claras (MG).
Da fábrica em Pindamonhangaba (SP) saíram 310 mil t de tubos, com movimentação de 155 carretas/dia. O fornecimento exigiu 3.700 viagens/mês.
Quem fez
A construção e montagem do gasoduto ficou por conta de consórcios como o Brown & Root (engenharia) e o Murphy Brothers (especializada em dutos) que se juntaram ao Consórcio Petrolero Boliviano e ficaram com os lotes 1 e 2, de 557 km e US$ 89 milhões em contratos. Os lotes 3 e 4 ficaram por conta do consórcio Camargo/Brown & Root/Murphy, entre Corumbá e Mimoso, orçado em US$ 10 milhões.
A Techint foi a única a atingir o máximo de três lotes. Ela executou os lotes 5, 6 e 7, com 740 km de extensão entre Campo Grande (MS) e a refinaria de Paulínia, num contrato de US$ 122 milhões. O ramal Campinas–Guararema, orçado em US$ 25 milhões, ficou sob responsabilidade da Coest Construtora. Por US$ 12 milhões, o consórcio Conduto-Preaussag ficou com as travessias especiais pelos rios Paraguai, Paraná e Tietê.
Os dutos ficaram enterrados 1 m abaixo do solo e em áreas de agricultura mecanizada a 1,20 m de profundidade. Nesses locais e nas regiões urbanas a linha de tubos recebeu como proteção uma placa de concreto e fita de aviso sobre a linha. Nos rios, os tubos foram enterrados 1,5 m do ponto mais baixo de seu leito, e nas interseções com ferrovias e rodovias o gasoduto recebeu revestimento de concreto.
Operação de guerra
A obra, com financiamento do BID, desenvolveu-se numa época (1997) em que as questões ambientais estavam na ordem do dia e, portanto, as auditorias fervilhavam. Os 10 primeiros meses foram complicados, com baixa produção, segundo depoimento do engenheiro Valdir Afonso, hoje gerente de Contratos de Oleodutos da Techint. “Como as dificuldades iniciais não eram motivo para prorrogar o prazo da obra, a empresa teve de montar uma verdadeira operação de guerra”, disse Afonso.
Normalmente, numa obra desse porte, 28 side booms seriam suficientes, segundo cálculos do engenheiro, mas eles tiveram de trabalhar com uma frota de 84 dessas máquinas. “Tivemos de trazer técnicos estrangeiros, pois não havia disponibilidade de mão-de-obra no mercado brasileiro. Eram 1.200 homens trabalhando direto, sábados e domingos, inclusive.”
A dinâmica da obra consistia no avanço diário de 2,5 km estabelecidos como meta. O trabalho avançava como se fosse um trem, com as escavadeiras e valetadeiras na frente como se fossem a locomotiva. Na seqüência vinham os side booms, carretas com os tubos, a solda automática, raio X da solda, posicionamento do tubo na vala, cobertura e estabilização e as equipes.
Todos tinham de produzir de maneira sincronizada para “não quebrar” o trem. “Se a rotina fosse rompida, não dava para continuar sem recompor a seqüência do trabalho para se obter a produtividade requerida”, relembra Afonso. “Como um general, a gente tinha de percorrer as frentes de avanço com um helicóptero circulando entre Campo Grande e Campinas, para ter uma idéia do andamento de toda a obra e ir resolvendo problemas que surgissem no dia-a-dia.”
Outro exemplo do porte do trabalho era a frota de 120 carretas que trabalh
ava para levar três tubos de 12 m de comprimento e 32” de diâmetro a cada viagem, enquanto uma transportadora grande costuma operar com 50 a 60 carretas. Os tubos eram armazenados em Paulínia, São Carlos, Araçatuba, Sete Lagoas, Rio Verde e Campo Grande.
A única maneira de ganhar velocidade na obra era montar mais patrulhas, constituídas das equipes, dos equipamentos e esquemas de suprimento de material. “Só com mais máquinas e mais pessoas. Tínhamos 20 equipes e passamos a 39”, explica Afonso, “cada equipe, de 25 a 30 pessoas, contava com supervisores, cachimbo, soldadores, operadores de máquinas, guindasteiro, empilhadores, ajudantes e motoristas. A dificuldade de acesso nos forçava a planejar semanalmente o trabalho para calcular o suprimento necessário e se fazia os ajustes finos enquanto o trabalho avançava.”
“Eu estava lá”
Na Techint desde 1975 e formado engenheiro mecânico em 1978 pela Escola de Engenharia de Taubaté (SP), Waldemiro Teixeira “comeu poeira”, trabalhou no canteira dessa obra como gerente da construção e tem orgulho de dizer que participou.
“Só para ter uma idéia”, disse ele, “em sete meses (de novembro 1997 a maio 1998) foram executados 22% da obra. Nos outros sete meses (de junho a dezembro de 1998) era preciso construir os 78% restantes do trecho entre Mato Grosso do Sul e Paulínia. E aí o bicho pegou!” A frota de carretas para transportar os tubos cresceu para 180. Dos 1.000 trabalhadores que estavam nos canteiros, tivemos de aumentar para 2.300. A empresa colocou dois helicópteros percorrendo todo o trecho da linha.
“A gente tinha que descer a cada anormalidade, como uma carreta com pneu furado, outra encalhada, máquina quebrada”, conta Waldemiro. “Tivemos de construir 15 pontes para chegar às frentes de trabalho. No Mato Grosso, tivemos de trabalhar com esquema especial num trecho de 72 km de areia, onde os tubos tinham de ser concretados, além das soldas nas juntas. Trabalhamos com 86 side booms e 36 equipes, em duas frentes, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Tínhamos 58 escavadeiras e transportávamos o pessoal em 65 ônibus, das cidades onde estavam alojados até os canteiros de obras.”
“Batemos um recorde de construção de 13.230 m num dia só, nas duas frentes. Foram 7.500 m numa e 6.730 na outra, 192 soldas realizadas, revestidas e inspecionadas”, afirma Waldemiro. O trabalho se desenvolveu com o pessoal da topografia na frente, com abertura da pista – que significa a limpeza do terreno para a entrada dos outros equipamentos, preparação dos acessos e limpeza de mato, construir pontes onde for necessário, abertura da vala, distribuição dos tubos, encurvamento horizontal ou vertical com quatro curvadeiras. Cerca de 70% dos tubos foram encurvados.
“Tem a turma do combustível, da manutenção e das refeições. Houve vezes em que a gente demorava até uma hora e meia para chegar à obra. Mudanças constantes de uma cidade para outra. Não havia rotina. Cada dia era um desafio a ser superado. Chegamos a alugar pontes flutuantes do exército para travessia de rios com toda a parafernália. O trabalho foi contínuo, sem sábado, sem domingo, sem feriado. Só paramos na véspera do Natal. Organizamos um vôo charter e levamos o pessoal para passar a noite do dia 24 para 25 com a família. No dia 26, estava todo mundo de volta. Mas todos falam com orgulho de ter feito o gasoduto”, diz Waldemiro.
A história se repete
Trabalhos semelhantes, em outras escalas e cenários, foram desenvolvidos em outros projetos marcantes de oleodutos, polidutos e gasodutos. Todos estão repletos de histórias pitorescas, de coragem, inventividade, obstáculos transpostos, surpresas com imprevistos, de humanidade, em esquecer da defesa da fauna e da flora.
Assim foram conduzidas as obras do oleoduto Rio–Belo Horizonte (Orbel), o gasoduto Rio–São Paulo, o gasoduto do Nordeste, o poliduto São Paulo–Brasília (Osbra), sem falar da situação especial do poliduto e gasoduto Urucu–Coari, na selva Amazônica, ou da malha de oleodutos e gasodutos submarinos da bacia de Campos, no Rio de Janeiro.
Fonte: Padrão