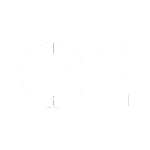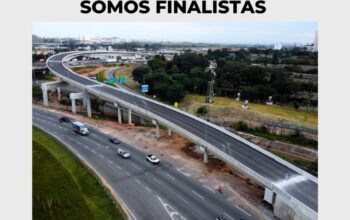Há uma nova geografia física e humana gestada sob o impacto da nova economia global. A constatação está sendo feita por urbanistas e sociólogos com base nos estudos da movimentação humana nos grandes centros do mundo. E essa movimentação, resultante de ideias que vão quase imperceptivelmente se consolidando, ganha forma e conteúdo político nas metrópoles mais diversas.
Podemos vê-la nas ruas de Nova York, com o Occupy Wall Street; na praça Tahrir, no Cairo, que alterou em profundidade os rumos do Egito; nos demais países do Oriente Médio, com menor ou maior escala de violência; e em praticamente todas as populosas regiões do mundo, sem descartá-la do dia a dia de metrópoles, como a Cidade do México, Buenos Aires e São Paulo.
A consciência de que a nova economia precisa descolar-se ou alterar o modelo tradicional do capitalismo financeiro, que nada tem feito em favor da produção, mas somente em favor dele mesmo (daí o débâcle que ele vai sofrendo em suas matrizes ou sucursais), projeta-se na sociedade acionando aquela movimentação humana que pode ser explícita e ruidosa, ou sufocada e silenciosa. Mas seja qual for a característica que vá obtendo, o final é previsível: provoca um tsunami social cujo controle vai depender da capacidade política e da inteligência dos governantes.
Essa movimentação humana crescente leva à análise de que já somos 7 bilhões de pessoas no mundo e que poderemos chegar a 9 bilhões já em 2045. Até lá, teremos de repensar a estrutura do campo e das cidades e das novas formas de proporcionar alimento, habitação, saneamento, trabalho, educação e conforto aos egressos dessa explosão populacional. No fundo, é a nova geografia física e humana de que estamos falando.
A edição deste mês da revista O Empreiteiro coloca em destaque a questão das cidades e das soluções que vêm sendo estudadas ou colocadas em prática diante dessa realidade e dessa consciência da sociedade civil: a reorganização do espaço urbano à luz da nova economia.
A engenharia e a arquitetura têm papel preponderante no esforço para tornar as macrometrópoles viáveis e nas quais a infraestrutura é peça crucial. Elas precisam ajudar as administrações a costurar as soluções urbanas com esse fim, através de planejamento de longo prazo e investimentos continuados em obras de porte, que podem levar até uma década para ser concluídas. E, por causa disso, é necessário que até se reinventem para dar encaminhamento prático às propostas que vierem a fazer.
Hoje, é impossível imaginar, tomando-se como exemplo a cidade de São Paulo, que 7 milhões de veículos continuem a ocupar os espaços urbanos, às vezes quase simultaneamente. A articulação dos transportes de massa é um elemento que está desafiando o poder público. Os sistemas têm de ser unificados em favor do cidadão e da cidade. O transporte coletivo prevalecendo sobre o individual.
Entrevista com o urbanista Jorge Wilheim, o exemplo de Curitiba, que começa a ceder espaços à contracultura do planejamento e matérias sobre Nova York e Songdo, na Coreia do Sul, mostram que as macrometrópoles são um campo fértil para colocar à prova a inteligência dos planejadores urbanos, com a consciência de que os planos diretores, elaborados considerando os interesses maiores da sociedade, precisam ser cumpridos ao longo de sucessivas administrações.
Nesse cenário, a engenharia brasileira não pode continuar a desenvolver-se ao sabor das circunstâncias, às vezes enxovalhada por políticas de contratação de obras que eventualmente tornam espúrio o relacionamento entre contratados e contratantes. A nova economia e a sociedade civil repelem a falta de transparência e a maquiagem com a qual se procura dissimular equívocos que julgávamos sepultados com a Lei 8.666/93. Não é a lei a responsável pelos atrasos nas obras públicas, mas a incompetência de uma gestão permeada por interesses políticos episódicos.
Nesta edição, em que premiamos as 500 Grandes da Construção e divulgamos o ranking da construção brasileira deste ano, prestamos homenagem aos valores permanentes da engenharia, convencidos de que a realidade atual mostra os pontos vulneráveis de uma infraestrutura obsoleta, na qual as obras novas não conseguem acompanhar a expansão da economia. A saída seria profissionalizar a gestão das obras públicas por intermédio de empresas gerenciadoras, a exemplo do que fez o governo britânico. Agindo desse modo, ele entregou o Parque Olímpico em julho do ano passado, 12 meses antes da Olimpíada.
Fonte: Padrão