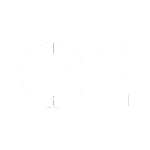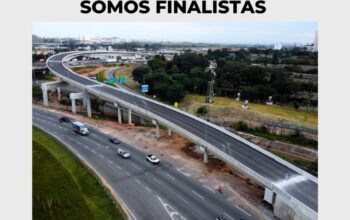Discussões à parte, Angra I e II representam o grande salto qualitativo para a engenharia brasileira
A pesar da polêmica sobre a alternativa nuclear como fonte geradora de energia elétrica, os argumentos em favor do desenvolvimento do domínio da tecnologia, somados aos interesses militares e à perspectiva de uma demanda crescente maior que a oferta, levaram o presidente Ernesto Geisel a fechar acordos com a Westinghouse, dos Estados Unidos, para a usina de Angra I, e com a KraftWerk Union A.G. (KWU), da Alemanha, para as usinas de Angra II e III, e transformar a praia de Itaorna em Angra dos Reis no pólo de energia nuclear do Brasil.
As obras de Angra I iniciaram-se em 1972 e a operação comercial em 1984. O governo firmou com a Alemanha o Acordo de Cooperação para Uso Pacífico de Energia Nuclear em junho de 1975 e formalizou a aquisição das usinas de Angra II e III, da KWU. Iniciadas em 1976, as obras de Angra II foram desaceleradas em 1983. Votaram a ser retomadas em 1991, mas a montagem eletromecânica só foi contratada em 1995, com os respectivos testes para operação concluídos em dezembro de 2000. Hoje a usina nuclear de Angra I gera 602 MW e Angra II prepara-se para gerar outros 1.351 MW, totalizando 1.953 MW.
Agora, com a grande parte dos equipamentos comprados, a polêmica transfere-se para a terceira usina nuclear. Em fevereiro último, o Conselho Nacional de Política Energética autorizou a retomada dos estudos para obtenção de licenças ambientais e nuclear para a construção da usina de Angra III. Originalmente o programa nuclear brasileiro previa oito usinas.
Discussões à parte, a implantação das usinas nucleares significou um salto qualitativo nos setores industrial e de engenharia, que fornecera equipamentos, materiais e serviços. A Eletronuclear, resultante da fusão de Furnas Centrais Elétricas com a Nuclen Engenharia e Serviços, afirma que “Angra II é um marco relevante para a engenharia brasileira porque todos os principais objetivos de transferência de tecnologia propostos no acordo com a Alemanha foram alcançados”.

Garantia para valer
O engenheiro Rubem J. Pinto não conseguiu conter a exclamação diante da exigência de Furnas Centrais Elétricas quanto ao rigor do controle de qualidade nas obras das usinas de Angra I e Angra II. “Um pingo de solda numa das barras de aço da armadura fez os fiscais darem não-conformidade. Tivemos que remover a barra e começar tudo de novo”, rememora o engenheiro civil da Construtora Norberto Odebrecht, responsável pela execução das primeiras duas usinas nucleares brasileiras, na praia de Itaorna, no Rio de Janeiro. Foi assim que ele começou a entender que a garantia da qualidade era para valer.
Carioca, formado pela Escola Nacional de Engenharia, Rubem J. Pinto tem sido considerado o introdutor da Garantia da Qualidade na construção, desde que gerenciou Angra I, iniciada em 1972. Após 14 anos na área de projetos de fundações, na Engefusa, foi convidado pela Norberto Oderbrecht para montar a filial da empresa no Rio de Janeiro. Sucederam-se os desafios para execução de projetos diferenciados como a nova sede da Petrobrás, até então a maior estrutura monolítica da América Latina; conjunto de 20 prédios fechados com painéis pré-moldados na Universidade Estadual do Rio de Janeiro; o aeroporto do Galeão; e a ponte Rio-Niterói.
Ele considera, porém, Angra I a mais importante de sua carreira, por ter sido repleta de desafios, técnicas construtivas inovadoras e exigido comprovação documental do controle de qualidade. As exigências da Agência Internacional de Energia Nuclear eram repassadas no Brasil para a Comissão Nacional de Energia Nuclear e para a proprietária da obra, que era Furnas. Elas precisavam ser inteiramente cumpridas e eram totalmente inovadoras. Tivemos de fazer protótipos para demonstrar na prática como iríamos trabalhar, com o estudo nos mínimos detalhes e acompanhamento ininterrupto da contenção da unidade I, executada com fôrmas deslizantes.
A concretagem da base do reator, por exemplo, exigiu a mistura do concreto massa com controle de temperatura. Tivemos de usar uma usina de concreto muito sofisticado que tinha acoplada uma fábrica de gelo. Outro exemplo foi o edifício do reator, classificado na categoria I sob o ponto de vista da segurança em que o controle da qualidade atingiu rigores extremos.
A construção de Angra I requereu a preparação do Manual de Garantia da Qualidade que detalhou todos os procedimentos e exigências previstas para o conjunto de seis edifícios de estruturas independentes, de concreto armado e cotas diversas de fundação. No início, em 1971/72, o acesso era apenas por barco ou via Volta Redonda. Só em 1974 foi aberta a Rio-Santos.
“Tivemos uma concretagem contínua de 2.500 MW, sem juntas, para a mesa da turbina. Isso exigiu planejamento integrado, armação, equipamentos, pintura dos caminhões de concreto e microssílica para conter o calor da hidratação. Foram 72 horas com dois turnos diretos”, conta a engenheira Célia Maria de Oliveira Nascimento, 44 anos, hoje chefe de engenharia da construtora em Angra.
O edifício do reator é cilíndrico e tem 36,6 m de diâmetro, 58 m de altura e paredes de 75 cm de espessura. Dentro dele um vaso metálico de aço, separado com um intervalo de 1,5 m, no qual fica o vaso do reator, propriamente dito, geradores de vapor e bombas de refrigeração, com um peso total que ultrapassa 950 t. O domo semi-esférico de 60 cm de espessura de concreto armado fecha a cúpula.
“Entre a calota e a esfera de contenção do reator tinha que ser mantido um intervalo de 15 cm. Esse espaço foi preenchido com concreto mais fluido”, descreve a engenheira Célia. Segundo ela, numa parceria da Odebrecht com a Confab, que fabricou a esfera de aço, foi realizada uma operação de flutuação em água, esta drenada posteriormente. “Fomos garantindo por etapas, com o espaço dividido por áreas, com variações de 1:15 a 11:15 e na parte superior alcançando a altura de 42 m.”
O edifício de segurança tem uma base de 18,3 x 17,5 m e 35 m de altura. Este e o edifício do reator repousam sobre um bloco único de fundações sobre rocha sã, com diâmetro de 37,6 m e 6,45 m de altura sob o segundo, e de 19,5 x 18,3 m e 1,85 m de altura sob o primeiro. Foi preciso laçar 3.750 m3 de concreto de regularização, de espessura variável, para compensar o mergulho das rochas e a superescavação que chegou à cota – 23 m no seu ponto mais baixo, para iniciar o bloco de fundação.
O combustível nuclear usado e o novo ficam armazenados num poço de concreto de 20 x 36 x 26,2 m. Os sistemas auxiliares do sistema nuclear gerador de vapor, seus painéis de controle, sala de controle da u
sina, sistemas de ventilação e de ar-condicionado localizam-se nos edifícios auxiliares, assentados sobre um bloco de fundação com 9 m de altura.
O conjunto turbogerador e seus acessórios, que pesam 1.450 t, e dois reaquecedores, de 110 t cada, estão alojados num edifício de 80 x 36,5 x 32 m. A presença de água subterrânea exigiu o rebaixamento do seu nível numa área de 40 mil m2, correspondendo a um volume de solo da ordem de 400 mil m3, a maior obra do gênero já realizada no Brasil. Esse trabalho incluiu 140 poços de 0,30 m de diâmetro e de 10 a 25 m de profundidade, espaçados por 4 m ente si. Os poços são atendidos por 11 conjuntos com um total de 28 bombas, com uma vazão média de 280 m3/h.
Outra dificuldade foi o planejamento da liberação das 2.492 salas, com características de acabamento, pisos, paredes e tetos diferentes. Esse trabalho foi feito em sintonia com a montagem. “E tudo com rastreabilidade preservada, com protocolo de execução, avaliado pelo Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear (IBQN)”.
Angra II continuou apresentando complexidades construtivas excepcionais. Ocupa uma área de 75 mil m2, constituída por cinco edifícios principais e diversas estruturas auxiliares. Sua construção começou em 1977 e consumiu 209.855 m3 de concreto e 34,5 mil t de aço. As fundações exigiram 1.626 estacas concretadas. A mesa da turbina, de 63 x 10,5 m a 23 x 2,5 m a 3,1m de altura, sem juntas de concretagem e apoiada sobre 132 molas com carga de trabalho de 50 a 130 t cada, precisou de 2.127 m3 de concreto. A chaminé de descarga de gases, com 155 m de altura e diâmetro externo de 3,6 a 12,6 m, foi erguida com fôrmas deslizantes em quatro meses.
Fonte: Padrão